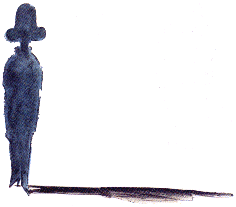De fato, era uma bela manhã. Ficou mais bonita quando um jovem, de aparência humilde e bastante despachado, chegou junto de mim e de Glória e comentou, entusiasmado: o mar está um prefixo. Concordamos plenamente.
Ali estava uma palavra usada pura e unicamente pela sua beleza plástica. Boa de falar, portando uma certa solenidade, prefixo expressava claramente o deslumbramento do jovem frente à maravilha que nos enchia os olhos.
Lembro de outra palavra que me encantava na infância: Corolário. Não sei como vim a conhecê-la. Provavelmente foi em algum livro dos adultos em que vez por outra enfiava o nariz. Por um bom tempo, corolário me remetia a alguma coisa colorida, como um arco-íris, e ao mesmo tempo imponente, como a coroa de um rei.
Imagine a falta de graça quando descobri que corolário significava apenas uma verdade que decorre de outra, como sua conseqüência necessária ou continuação natural. Foi no que deu estudar epistemologia. Só quase agora resgatei um pouco da antiga magia da palavra. O dicionário me informou que corolário servia primeiramente para nomear a coroa de folhas de ouro que era oferecida, na Roma antiga, aos grandes atores em reconhecimento do seu talento.
Gosto quando as palavras se despregam do seu sentido cotidiano e vêm brincar conosco, propondo novos significados. Drumond dizia que lutar com palavras é a luta mais vã. Por isso brincava com elas.
O rapaz da praia e o menino que eu fui deixaram-se levar pela beleza natural das palavras. E do reino das palavras eu trago estas duas para enfeitar o ano novo. Muitos prefixos e corolários para todos nós.