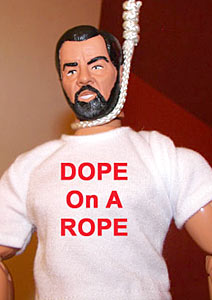O trabalho do Piollin sempre me surpreende e emociona. Já faz quase trinta anos que assisti Os pirralhos, montada num galpão por trás do convento de São Francisco. O banho de rio dos meninos se dava numa banheira velha salvada de alguma demolição. Coisa mais recente, O vau da Sarapalha correu mundo com seu monte de tralha e uma narrativa obsessiva.
Agora, mais uma vez o Piollin me surpreende e emociona com A gaivota – alguns rascunhos. Aqui, Anton Tchekhov é minimalizado para caber no tempo e no espaço da contemporaneidade. Já vi duas vezes e ainda quero ver de novo. A harmonia das cenas me dá a impressão de ter assistido o trabalho de um corpo só, multifacetado nos cinco atores em cena.
Sabiamente, antes de mergulhar no texto propriamente dito e mais ou menos no meio do trabalho, os atores brincam entre si e envolvem a platéia no seu desvario. O primeiro momento serve para nos distrair e nos pegar de surpresa com a densidade do texto. O segundo nos alivia da tensão excessiva do drama, nos dando fôlego para suportar a densidade do desfecho.
A gaivota ainda fica em cartaz por mais dois fins de semana, no teatro de arena ainda inacabado montado na antiga fábrica de rapadura de um engenho bangüê. Só o local vale a pena a visita para quem está em João Pessoa. Se você não está por aqui, espere que mais cedo ou mais tarde esta gaivota voará para perto de você. Ela tem tudo para refazer os passos do Vau da Sarapalha. Aguarde.