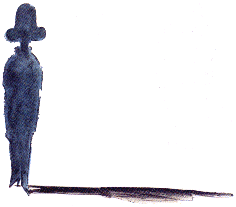Vivia na corda bamba. Desde que entrou na troupe do Gran Circo Gitano, viver passou a ser uma atividade de risco. Seu coração andava por um fio.
Carlos Gonzalez, esse era o nome do seu desequilíbrio. Dono do circo, foi ele mesmo quem convidou Alice para fazer parte da companhia. Disse que ela era linda, que ia fazer o maior sucesso. Disse isso e a levou para dentro do seu trailer. Beberam cerveja, comeram galeto e foram pra cama. A cama apertada que Carlos Gonzalez nunca dividiu com ela. Desde a primeira noite, mandou que ela fosse dormir na barraca de Zuleide, a contorcionista.
Da boca de Carlos Gonzalez nunca saiu uma palavra de amor. Cigano só ama os cavalos, Alice ouvia do anão Meia Légua, seu melhor amigo no circo. Ficavam horas, os dois, sentados em cima do baú do anão. Alice contando e recontando sua vida, Meia Légua ouvindo tudo calado, só falando, no fim, alguma coisa para consolar Alice. Mas quando os lamentos falavam da falta de amor do dono do circo, ele sempre repetia: cigano só ama os cavalos.
Domingo sempre tem matinal. Todo mundo acorda cedo para preparar o espetáculo. Alice não acordou, pelo simples motivo de não ter dormido. Chorou tanto que Zuleide botou ela da barraca pra fora. Foi chorar no escuro, olhando para o trailer de Gonzalez a meia luz, balançando de vez em quando, Alice sabia muito bem por quê. Não queria saber quem estava lá. Foi acabar de chorar lá pras bandas da barraca de Meia Légua. Já sabia o que ia ouvir quando o anão desse por sua presença: cigano só ama os cavalos.
Não vá, Alice. Você não está em condições de andar nesse arame. Você não dormiu, está nervosa, tremendo. Capaz de você cair. Zuleide disse isso quando voltou do seu número e cruzou com Alice que se cobria com sua capa de cetim azul, pronta para entrar no picadeiro.
Eu sou a rainha do arame, Alice falou para si mesma, de olhos fixos no seu reino. De olhos fixos em Alice estava Meia Légua, no meio do picadeiro. Era ele que apresentava os espetáculos das matinais, para Carlos Gonzalez descansar. E agora, senhoras e senhores, Alice, a rainha do arame, vai realizar a perigosa façanha de atravessar o fio movimentando três malabares de ponta a ponta do picadeiro.
A mísera orquestra atacou um mambo e Alice partiu para a sua perigosa façanha. Fazia isso desde menina, não era uma noite sem dormir que lhe faria desistir. Do alto do seu arame, já no meio do caminho, os olhos de Alice ultrapassam a lona lateral do palco, indo bater no trailer de Gonzalez. Aí sua vista escurece, os malabares caem e o pé esquerdo derrapa do fio de aço. Alice não cai. É a rainha do arame. Mas o lado de dentro de sua perna mostra um risco vermelho sob a meia rasgada.
Ô, Alice... Lamenta Zuleide, já de roupa trocada, na última tábua do poleiro. Pra quê você foi olhar. Toda a troupe sabia que Gonzalez tinha passado a noite com a nova contratada. Diana, a deusa amazona.